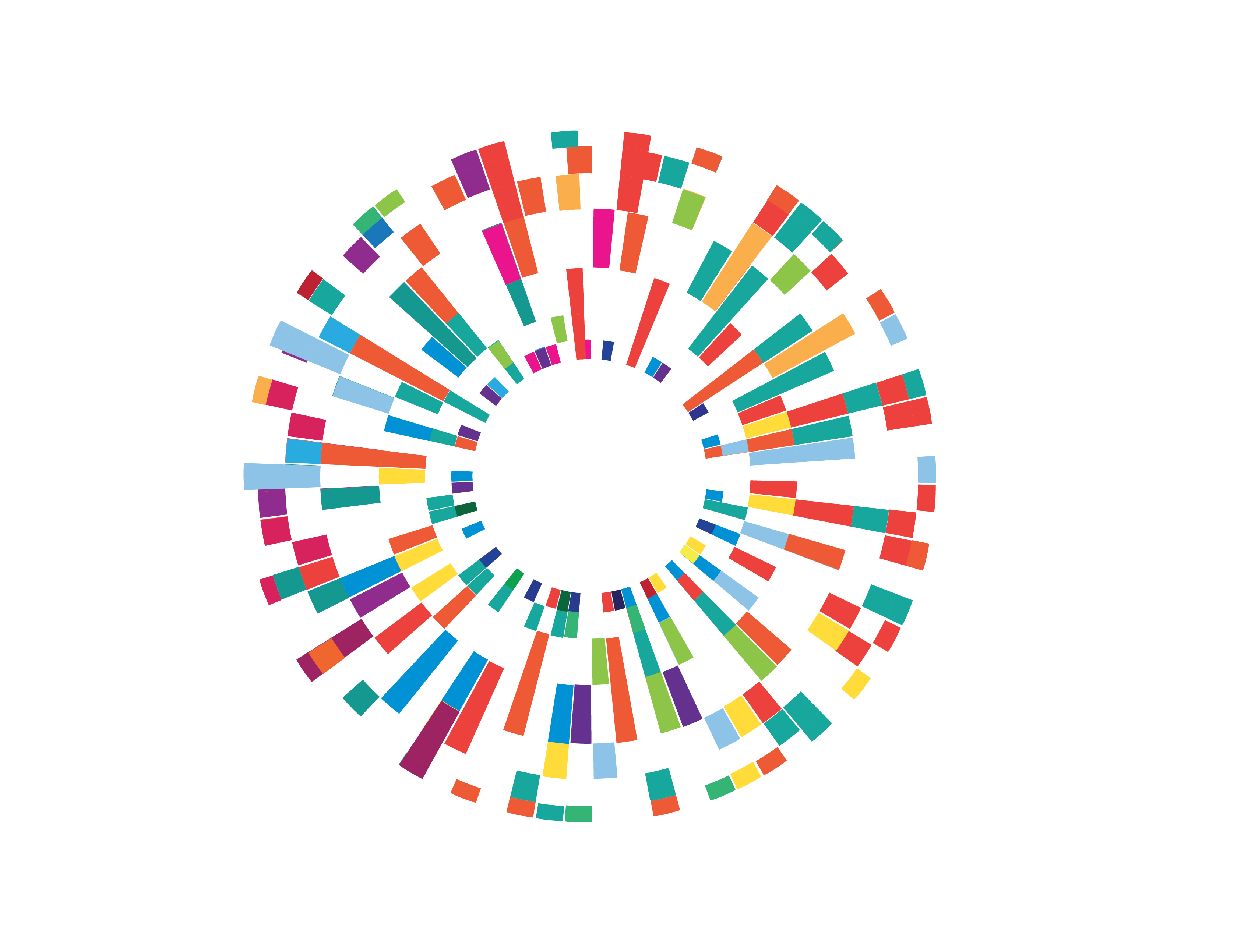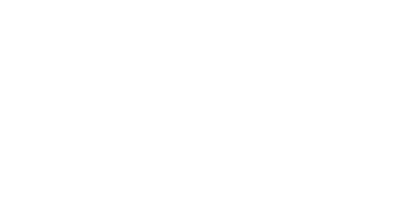Sobre algumas pistas de Futuro: caminhar do desespero à esperança
Marcia Malcher*, Roberto della Santa**
29 de junho de 2020
Maringá, Paraná, Brasil, 29 de Jun. 2020.
Oeiras, Lisboa, Portugal, 29 de Jun. 2020.
«Que tal se começássemos a exercer o nunca proclamado direito de sonhar? Que tal se nós
delirássemos, só um pouquinho? Vamos então parar para lançar o nosso olhar para além
da infâmia, tentando adivinhar outro mundo possível.»
Eduardo Galeano. In: O Direito ao Delírio.
«Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.»
António Machado. In: Provérbios y Cantares
«Que seja a luz do dia sua guia, seu farol, porque da noite,/ Amor, da noite eu não sei.»
Gilberto Gil. In: Sol de Maria.
Não é novidade que passamos já de um suposto Estado de bem-estar,[i] injusto, para um absoluto «Estado de mal-estar»[ii]: de negação de qualquer direito, de austeridade máxima, ofensiva neoliberal contra o mundo do trabalho, mercantilização, privatização, financeirização; de tudo e de todos. Mal-estar este que rotiniza uma vida já esvaziada de sentido, em que as relações, o trabalho, o pensar e o sentir – a cognição e os afetos – imersos nas repetições, extenuantes, do dia-a-dia de sociedades administradas são, cada vez mais, seriados, atomizados, rotineiros, instantâneos, parcelares; protocolares. Falsos.
Este mundo, de profunda miséria material e existencial, não consegue continuar em funcionamento senão por conta de uma política, já aberta, de eliminação. Assim, os diversos rostos da «fascistização» – em um sentido muito amplo – emergem, dos esgotos, a cumprir tão vil tarefa, radicalizando os ódios, as intolerâncias, as autocracias, o abismo. A visível decadência civilizatória, como destaca o filósofo Silvio Almeida, não está no corpo de George Floyd[iii] – ou nos vários corpos; de tantos trabalhadores, pobres, pretos, brutalizados, diariamente, nas favelas e periferias, mundo-afora –, mas, sim, no corpo do policial[iv]. Ou, para sermos ainda mais precisos, a nossa ruína societária não seria este ou aquele sofrimento privado de tantos – à margem da história –, mas sim o que a produziu.
Uma “emancipação” que é, meramente, simbólica (diante da lei, p.ex.), não acompanhada da garantia efectiva e direitos na sua integralidade, é o pressuposto de uma sociedade que vende o ideal imaginário da igualdade acentuando, mais que a diversidade, a desigualdade e, sobretudo, a contradicção social. Nela, conjuga-se a homogeneização máxima do homem-máquina em busca incansável por singularidades. Daí a convivência de contradições aparentes, como o Mar de algoritmos Web alimentado pelas Selfies e de um mercado de consumo em tudo nivelador, que propagandeia fetiches para multidões de clientes “personalités”, “únicos” e “exclusivos”. Um signo da alienação autoevidente, mas não basta – como nunca antes bastou –, tão-só ter olhos para ver. Chama-se ideologia.
Para a historiadora e psicanalista Élisabeth Roudinesco, esse processo culminou na substituição da era do confronto por uma nova era, a da evitação. Todo indivíduo passa a ter o direito e, também, o dever “de não mais manifestar seu sofrimento, de não mais se entusiasmar com o menor ideal que não seja o do pacifismo ou o da moral humanitária”[v].
A sociedade democrática moderna quer banir de seu horizonte a realidade do infortúnio, da morte e da violência, ao mesmo tempo procurando integrar num único sistema as diferenças e as resistências. Em nome da globalização e do sucesso econômico, ela tem tentado abolir a ideia de conflito social. Do mesmo modo, tende a criminalizar revoluções e a retirar o heroísmo das guerras, a fim de substituir a política pela ética e o julgamento histórico pela sanção judicial.[vi]
Não à-tôa, a proliferação dos revisionismos históricos (e muito presentes) que transformam covardes em heróis. Não à-tôa a evitação do acerto de contas com o passado após a reabertura política. Os silenciamentos, os vazios e a anistia conciliatória, os quais terminaram por desfigurar aqueles que se opuseram ao Estado ditatorial, conferindo-lhes um lugar de “vítima”: sem rosto, sem voz e, portanto, destituída da ação potencial, de gesto redentor. Esse consenso passivo não só fundou, mas continuou vivo na democracia recente, até os fantasmas não-expurgados da memória coletiva decidirem ocupar a esfera pública uma vez mais encarnados – em discursos, práticas e instituições a assombrar-nos.
O fato é que dessa era da individualidade hipostasiada emerge, ainda de acordo com Roudinesco, um indivíduo que já não reivindica qualquer liberdade, é desvinculado de suas raízes e de sua coletividade, foge de seu inconsciente e está preocupado em tirar de si a essência de todo conflicto. Esgotado, sem qualquer perspectiva revolucionária, herda, ainda, uma dependência algo viciada do mundo, buscando um ideal de felicidade impossível nos estupefacientes, nas religiosidades, o higienismo, o culto ao corpo perfeito.
Nessa dinâmica, a adesão ou simplesmente a anuência ao destino inevitável é a nossa maior tragédia. A ideia de que nada se pode fazer ou que nada do que se faça será o suficiente é alimentada tanto pelo apoio deliberado à versão decrépita, ultraneoliberal, do capitalismo global, como pela paralisia dos que, ao terem o discernimento dos desafios a serem superados, também assumem uma disposição derrotista. Nos dois casos, tornamo-nos as tristes personagens trágicas que apenas caminham para a sua fatalidade pré-ideada.
Uma forma de sociabilidade marcada por “reações de reserva, de hesitação e de perplexidade, inclusive de franca indiferença, bem como de tolerância coletiva à inação e de resignação à injustiça e ao sofrimento alheio”[vii], sem dúvida, é uma sociedade, globalmente, patológica. Os psicanalistas, psiquiatras, clínicos gerais, cardiologistas e médicos internistas encontravam-se, já, exaustos, muito antes de qualquer sinal da pandemia, por atender sistematicamente novos casos de taquicardia, tontura, ansiedade, depressão e falta de ar. «Doentes de Brasil»[viii] chamou-os, daí, a jornalista política Eliane Brum, em um dos artigos mais partilhados do ano passado. “I can’t breath”, foram as quatro últimas palavras de Floyd. O não poder respirar – a falta de ar – é algo generalizado.
No caso específico do Brasil, onde a indiferença e a naturalização da morte se tornaram de há muito desavergonhadas políticas de Estado, os sintomas regressivos se agravam, aprofundam e multiplicam a olhos vistos. Parece que nos deparamos com uma forma social tardia do que é, na verdade, a própria expulsão da morte do mundo dos vivos.
Durante o século XIX, a sociedade burguesa produziu, com instituições higiênicas e sociais, privadas e públicas, um efeito colateral que inconscientemente talvez tivesse sido seu objetivo principal: permitir aos homens evitarem o espetáculo da morte. Morrer era antes um episódio público na vida do individuo, e seu caráter era altamente exemplar: recordem-se as imagens da Idade Média, nas quais o leito de morte se transforma num trono em direção ao qual se precipita o povo, através das portas escancaradas. Hoje, a morte é cada vez mais expulsa do universo dos vivos.[ix]
Evidência máxima da nossa debilidade, o fim supremo, do limite de todo projeto humano, de nossa inadiável derrota a morte é, como afirma o imorrível Walter Benjamin, a substância mais rica que alimenta a ideia de eternidade e também nossa capacidade de contar histórias e de narrar a experiência vivida. Isso porque ela informa a memória da sabedoria herdada, confere universalidade aos sentidos humanos, restaura a existência vivida, alertando-nos da urgência de futuro coletivo diante da nossa finitude individual. Quando nos compreendemos parte de um todo, morremos individualmente deixando rastros de amanhãs. É a célebre metáfora, já algo milenar, da cultura humana como uma consciência, operosa e operante, do que é, do que foi e do que será: colo, cultus, culturus.[x]
Mesmo agora, quando a morte invade abruptamente a casa e escancara a porta de uma sociedade que sempre se esforçou para mantê-la do lado de fora, ela é ignorada. São produzidos gráficos, estatísticas e percentuais demográficos de sinistralidade com o intuito não de proteger a vida mas de, ao fim e ao cabo, garantir a produção de mais-valia e/ou a circulação de mercadorias. E no Brasil – além do mais – sua existência é negada cinicamente, escorraçada do reconhecimento público por um Estado que afunda o país na morte vazia da distorção da memória, egoísmo autocentrado, indiferença ao sofrimento. Do horror, enfim.
Entretanto, é preciso ter clareza de que o bolsonarismo não é a obra de loucos cuja maldade seria inexplicável e incompreensível. As fake news, distorções deliberadas da verdade, o completo descaso com a miséria, o indefectível “E daí?”; tudo isso tem um único objetivo: minar qualquer ideal de público, de sociedade ou de comunidade até o seu sufocamento absoluto. Lembremos aqui e agora do que já bem pontuou doutra feita, com a sua necessária (e urgente) radicalidade crítica, o poeta político bavierense Bertolt Brecht:
Não é a mim, fugido da Alemanha com a roupa que tinha no corpo, que me vão apresentar o fascismo realmente existente como uma espécie de força motriz natural e impossível de se dominar. A obscuridade dessas descrições esconde as verdadeiras forças que produzem as catástrofes. Um pouco de luz, e logo se vê que são homens a causa destas mesmas catástrofes. Pois é, amigos: vivemos – hoje – em um tempo em que o homem é o destino do próprio homem.[xi]
O que pode o homem afinal fazer para escapar de um destino que se revela tão sombrio? Como superar a barbárie e a penúria desse projeto político (e libidinal), no seu sentido mais amplo porque, a um só e mesmo tempo, institucional, econômico e subjetivo? A sensação de não ter um chão, onde pisar os pés, chega a aturdir com tanto questionamento.
Por fim, só nos perguntamos, algo perplexos: como o novo irracionalismo pôde tomar tamanho vulto e a velha estupidez adquiriu tal força? Simples. Pressupomos as relações humanas como se já fossem humanas. Talvez nós tenhamos que reinventar o princípio. Talvez a nossa vela no breu seja, justamente, a humanização da humanidade. Humanização no sentido atribuído por Antonio Candido, i.e., um processo que confirma no homem traços essenciais, tais como “o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor” para além da compreensão e abertura à natureza, à sociedade, ao semelhante[xii] – o papel específico das Humanidades na formação integral dos homems.
Humanizar a humanidade não significa, assim, reforçar ou louvar a sua hoje vigente gana destrutiva, o racionalismo-máquina, a busca insofreável pelo progresso, a capacidade de destruição e sua arrogância diante da natureza e do ecossistema a que nega pertencimento. Antes o contrário. É a criação de outra razão que implica em reaver os laços fundamentais, a cumplicidade primeira, homem-natureza, o cultivo de si em relação ao mundo, a fruição do belo e do genuinamente prazeroso e a solidariedade que, ao fim e ao cabo, como a pandemia sanitária global e a crise econômica internacional, de modo avassalador ensina, determinará o destino coletivo de nossa sobrevivência sobre a Terra.
Estamos, verdadeiramente, em um cômpito histórico tremendo. As catástrofes socioambientais, o esgotamento dos recursos fundamentais, a ameaça real de novas epidemias virais – para ficarmos no plano “natural” – não terminará com uma vacina para a Pandemia de Sars-Covid-19. Ao invés de se propalar amiúde o famoso “novo normal”, deveríamos, isso sim, questionar e repensar, coletiva e profundamente, a “normalidade” que nos trouxe até aqui, cuja continuidade ou não definirá nosso caminhar. Decerto um novo mundo precisará de uma nova alma, muito diferente daquela moldada pela lógica da lucratividade. E cá nos aproximamos ao plano, essencialmente, “social” do problema.
Transformar este sistema político-econômico-social-cultural, mudar a ideia que temos de Estado, ao mesmo tempo em que resistir aos ataques aos direitos conquistados (defesa da universidade, escolas, museus, ciência, teatros, o sistema público de saúde etc.), exige uma estratégia de ação para muito além do pragmatismo utilitário. Como afirma Vladimir Safatle uma sociedade é, enfim, um “circuito de afetos”, a partir do qual é definido como as relações sociais se estabelecem, o que é possível ver, perceber e sentir na nossa vida social em geral. São justamente essas mesmas coordenadas históricas (de visibilidade, de percepção e de sensibilidade) que informam à vida política mais ampla de um corpo social, as suas configurações institucionais e decisões formais[xiii]. Não se pode agir como se os arranjos institucionais, o calendário eleitoral ou até a letra da lei regesse a orquestra quando na verdade é a orquestra mesma que confere ritmo, timbre e melodia à música. Música esta que – muito sintomaticamente – o mesmo autor decretou seu fim.[xiv]
Portanto, é central e imprescindível a busca por uma reconfiguração dos nossos modos de viver, pensar, agir, sentir e até perceber o mundo. O escritor Franco Berardi afirmou que é preciso resgatar o corpo afeto ao prazer. Uma ideia alargada de erotismo, que ultrapasse a esfera da sexualidade stricto sensu e faça-se presente na cultura, nas artes, na expressão humana. Trata-se aí de desautomatizar as relações estabelecidas, de enxergar o outro não como um instrumento, mas como uma fonte de gozo[xv]. Ou as paixões alegres produzidas por bons encontros, que aumentam a nossa potência de existir, na boa e velha tradição spinoziana. Um corpo, nos seus múltiplos aspectos, com suas várias capacidades físicas, intelectuais, motoras e sensoriais, que sente (e dá) prazer ao outro, ao invés do corpo utilitário – ou utilitarista –, que ou é usado ou usa o outro, assumindo-se a lógica própria do consumo, o “ganho” ligeiro e as múltiplas relações líquidas que este estabelece.
Para que isso aconteça, com toda a certeza, o corpo captivo deve ser eximido do entorpecimento dos sentidos, da super-virtualização da vida, do dilúvio (sem-corpo) de desinformação quotidiana, do brutal e incessante bombardeio das “hard news”, da falta de contextualização, da delimitação de nexos dinâmico-causais, da visão parcelar das imagens, postagens e memes repetidos ad nauseam. Dessa versão contemporânea (ou pós-moderna) da Caverna de Platão que, ao invés de sombras, projeta milhões de imagens, multimídia, em um ritmo alucinante. Dessa saturação, que mergulha a todos em uma absoluta falta de qualquer surpresa. Como já nos disse Celso Favoretto, isso é terrível, justamente, pois “tudo nos parece muito interessante e, ao mesmo tempo, indiferente”[xvi].
Ainda segundo ele, esse bloqueio insólito é um grande desafio para a arte contemporânea, à contrapêlo da mercadoria. Diante da atual realidade, brutal (e muitas vezes sangrenta), em que a representação mesma se tornou impossível, na qual a miséria, a pobreza e a dor mostradas já não contagiam ou comovem, já não mobilizam, as novas potencialidades da arte se manifestam no irrepresentável: na criação em que a atenção é obrigada a se reposicionar, trabalhando com os vestígios do que já foi representável, de modo a desviar o olhar do objeto representado e gerar, daí, a emergência de uma espécie de epifania profana.[xvii]
Não se pode negar que a mudança repentina e coetânea do quotidiano de milhões de pessoas no mundo por conta da pandemia também levou a todos a estranhar muito do que até então era tão familiar em suas rotinas diárias. Abriu-se uma brecha mágica de percepção. Um novo interstício. Mas, a grande questão, levantada ainda por Favoretto, e a ser respondida, é: que tipo de sensibilidade é essa que somos chamados a desenvolver para perceber essas epifanias, o novo inefável? O que deveria fazer a arte, a educação, as organizações coletivas, a ciência, os intelectuais, enfim, a sociedade de um modo em geral (e nós, individualmente) para inventar/gerar/produzir então uma nova sensibilidade ética, estética, moral, política? Será – até mesmo – possível uma nova concepção total de mundo?
Invariavelmente, ela implicaria em nos percebermos enquanto uma sociedade mutualística, uma comunidade real, ao invés de uma mera reunião de “individualidades egoístas”[xviii]. Tal como no filo artrópode – de besouros, a caranguejos até centopeias – que trocam de exoesqueletos à medida que crescem, no seu ciclo de vida, essa configuração – de aglutinação baseada na posse, no privado, no “eu” –, carece ser abandonada qual um envoltório que não nos serve mais, que já não nos pertence – ou que já não somos mais. Aliás, para desenvolver uma inteligência e sensibilidade realmente renovada, nascida da interação coletiva, quiçá tenhamos muito ainda a aprender com o que é a “arquitetura modular, cooperativa e distribuída – sem centros claros de comando” de muitos modelos vegetais e com outras espécies animais capazes de resolver problemas complexos a partir do exercício do comportamento grupal de cooperação[xix] –, i.e., claro, da não-competição.
Também teríamos muito o que aprender com o universo mágico das crianças, pois elas, como faz Brejeirinha, uma personagem infantil do eterno Guimarães Rosa[xx], ao ressignificarem a linguagem, são capazes de criar resoluções fictícias para situações reais, “fazendo-nos questionar assim os limites do que é visto e do que é apenas entrevisto”[xxi]. Desse modo, em suas amalucadas invencionices, as crianças nos mostram que a vida pode mesmo afinal ser reinventada, recontada e recomeçada. Ora, mas a gramática dominante e o comportamento padrão, já tão automatizados em grande parte dos adultos, contrastam com a atitude essencial da criança, que cultiva sempre um olhar de atenta admiração ao entorno que encontra e se desvencilha – lépida – das convenções que travam seu caminho.
De todo modo, reaprender a sonhar, em um mundo de sonhos pré-fabricados, é um grande desafio e, também, grande recusa. A arte, a cultura e a própria linguagem são formas de vivermos sonhos mesmo de olhos abertos — daí não só a sua mais extrema relevância, como a sua urgência. Mas é possível sonhar em uma sociedade para a qual o futuro já é hoje? Uma sociedade sem um passado memorável, que nega a história no seu sentido de mudança, transformação? E afinal o “sonhar juntos”, como cantava um poeta?
Uma importante, ou essencial, função dos sonhos (e também da arte), de acordo com Cristhian Dunker, é o fato de que eles funcionam como umas pequenas máquinas de desejar. Neles, os afetos provenientes das nossas lembranças são daí transformados, de maneira que parte de nossas pendências quotidianas (e promessas inconclusas) retornam como desejo desejado, criando imagens que são uma espécie de futuro projetado para esse passado (re)construído a partir do nosso presente[xxii]. Esse verdadeiro cinema pessoal e intransferível, inventado todas as noites, portanto, assim como o cinema propriamente dito (e de toda arte, no geral), que só é cinema (ou arte) porque desprivatiza o sonho que algum artista teve em algum momento, possui a potencialidade de captar coisas que nos escapam conscientemente e de restaurar, a partir do passado – e do inconsciente –, novas possibilidades efetivas de futuro. Por isso, toda a cultura que possui um elevado grau de simbolização e de alegorização é enclausurada, vedada, enquanto a maioria absoluta da população apenas tem acesso… à televisão aberta, à publicidade, à pasteurização pop, à literatura massiva ou à indústria cultural dos pobres. Logo se vê o porquê: o exercício do sonho (livre) também é um exercício de possibilidades e – portanto – dedesentorpecer-se.
Havemos de reaver, enquanto humanidade renovada, o direito de sonhar? Ou continuaremos assim nosso passo, pacífico, silenciosamente desesperado, para o horror e o abismo? Seremos dignos do desafio fulcral de não nos entregarmos à morte vazia e sem sentido? Benjamin nos dá uma pista subtil ao comparar o romance burguês e a narrativa.
Ele afirma que o interesse ardente, dos leitores solitários de romances, nutre-se de um material, na verdade, seco. Em sua solidão e isolamento social, ele quer transformar a matéria da leitura realizada em coisa sua. Quer devorá-la. O leitor “culinário” de novelas procura as personagens nas quais possa, assim, ler “o sentido da vida”, assegurando-se, então, de que comparticipará sua morte (literal ou figurada). Dessa maneira, o destino alheio, por conta desta morte anunciada, é consumido e, assim, “pode dar-nos o calor que não podemos buscar em nosso destino. O que seduz o leitor (no romance) é a esperança de reaquecer sua vida gélida com a morte descrita no livro”[xxiii]. Quê dizer, então, dos ecrãs?
Em oposição, aquele que escuta – atentamente – a uma história narrada está em companhia do narrador, até mesmo quando a lê, sem uma elocução oral. Diferentemente do romancista, o narrador sabe dar conselhos. Ao recorrer ao acervo incomensurável de toda uma vida (que não inclui apenas a própria experiência mas – e em grande parte – a experiência alheia disponível), ao tornar a morte reconhecível, aciona-nos a reminiscência colectiva, estimula a criação de novos nexos, reconhece a experiência vivida (enquanto tal), religa toda a cadeia da herança e do pertencimento e reativa simbolicamente a nossa cumplicidade – com a natureza, com a humanidade e com o nosso sentido de eternidade.
Distinto ao romance que, ao cunhar (última página) a palavra Fim, insta o leitor a refletir sobre o sentido daquela vida particular, a pergunta – «E o que vem depois?» – é plenamente justificada na função narrativa. Cada vez mais somos chamados a assumir o lugar de narradores do nosso próprio destino. Que sejamos dignos da experiência pela qual estamos passando. Que a pandemia, a crise, o horror e a morte não nos leve à simples atitude da perplexidade e da reflexão inerme, fria, solitária; enquanto se retoma o passo resignado para “o” Fim. Mas que nos faça atar a laços substantivos, reanimando o nosso senso de eternidade, dum outro futuro, a ser buscado por nós: Quais emoções? Que afetos desejamos? A qual sociedade aspiramos? «E o que vem depois?» é uma história sem-fim.
“Para que serve a utopia?”, perguntou um estudante colombiano ao realizador argentino, Fernando Birri, ao final de uma conferência. “A utopia está no horizonte”, ele disse, “quanto mais ando, mais se afasta de mim”. Se ando dez passos, ela se aparta cem passos a mais. Se avanço cem, ela recua mil. É isso. A utopia serve mesmo para caminhar.
[i] A referência é mais o Welfare State, europeu, do que o New Deal ou até o nacional-desenvolvimentismo.
[ii] Termo utilizado por Francisco de Oliveira. In: OLIVEIRA, F. Noiva da Revolução; Elegia para uma re(li)gião: Sudene, Nordeste, Planejamento e conflito de classes. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 81.
[iii] George Floyd foi sufocado, assassinado, pelo policial branco norte-americano Derek Chauvin, dia 25 de maio de 2020, em Minneapolis, Estados Unidos – o que, daí, deu lugar a uma onda mundial de protestos.
[iv] ALMEIDA, S. Sem o espaço do sonho a vida vira pura miséria, diz jurista Silvio Almeida. UOL. 11 de jun. 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/06/11/mortes-por-racismo-representam-fracasso-do-homem-branco-diz-jurista.htm>. Acessado em 29. Jun. 2020.
[v] ROUDINESCO, E. A derrota do sujeito. In:__. Porque psicanálise? Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p.16.
[vi] Idem, p.17.
[viii] BRUM, E. Doentes de Brasil. Jornal El Pais. 02 Ago. 2019. Disponível em: https://cutt.ly/2oewVdi.
[ix] BENJAMIN, W. O narrador. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 207.
[xi] BRECHT, B. As cinco maneiras de se dizer a verdade. Portal Vermelho. 11 de maio. 2012. Disponível em: <https://vermelho.org.br/2012/05/11/as-cinco-maneiras-de-dizer-a-verdade/>.
[xii] CANDIDO, A. O direito à Literatura. In: __.Vários escritos. Rio de Janeiro: Duas cidades, 2004, p. 180.
[xiii] SAFATLE, V. “É impossível uma sociedade que consiga naturalizar essas mortes como a brasileira naturaliza”. Entrevista gravada. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=E8nyu1H_PKs>.
[xiv] SAFATLE, V. Fim da música. Folha de S.Paulo. 9 Out 2015. Disponível em: https://cutt.ly/BoejTwx.
[xv] BERARDI, F. Isolamento do coronavirus provoca ódio a celulares e reinvenção de sexo e prazer. Folha de S. Paulo. 7 de Abr. 2020. Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/04/isolamento-do-coronavirus-provoca-odio-a-celulares-e-reinvencao-de-sexo-e-prazer.shtml>.
[xvi] FAVORETTO, C. A reflexão artística sobre a peste. A Terra é redonda. Podcast. 19 de Abr. 2020. Disponível em: < https://aterraeredonda.com.br/a-reflexao-artistica-sobre-a-peste/>.
[xvii] Idem, ibidem.
[xix] MANCUSO, S. Democracias verdes. Revista Piauí, ed. 154, Jul 2019. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/democracias-verdes/ >
[xx] GUIMARÃES ROSA, J. A partida do audaz navegante. In: Primeiras Estórias. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2008.
[xxi] SANTOS, I.C. A poética do pensamento infantil na obra de Guimarães Rosa. Revista Garrafa, n. 5, v. 15, 2007, p.2.
[xxii] DUNKER, C. Como os sonhos refletem os efeitos da pandemia a nossa mente. Café da manhã. Podcast. 15 de jun. 2020. Disponível em: < https://open.spotify.com/episode/13GpdtscllGMiM7KYKe8Yu?si=x00YhdVoSK-3hg9FFYEhtg>.
[xxiii] BENJAMIN, W., 1987, op. cit., p.214.
*Marcia Malcher é Doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Faz parte do Núcleo de Sociologia da Cultura, FFLCH/USP, vinculado ao CNPq, que reúne pesquisadores de diversas áreas, como Literatura, Artes Plásticas, Dramaturgia, Cinema, Música e Mídia. Tem experiência nas áreas de Comunicação, Sociologia e Cultura, com ênfase nos estudos sobre a Imagem e Som e o Cinema Moderno. Atualmente é Professora – no Depto. de Fundamentos da Educação – da Universidade Estadual de Maringá.
**Roberto della Santa é Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de S. Paulo. Faz parte do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo, UFF/Niterói, vinculado ao CNPq, que reúne pesquisadores de diversas áreas, como Economia, História, Ciências Sociais, Educação, Serviço Social, Políticas Públicas, Ciências Políticas, Direito e Filosofia. Tem experiência nas áreas de Trabalho, Metodologia das Ciências Sociais e Teoria Crítica da Sociedade, com ênfase em Cultura, Cotidiano e Modo de Vida constitutivo do Ser Social. Atualmente é Investigador Integrado da Universidade NOVA de Lisboa.