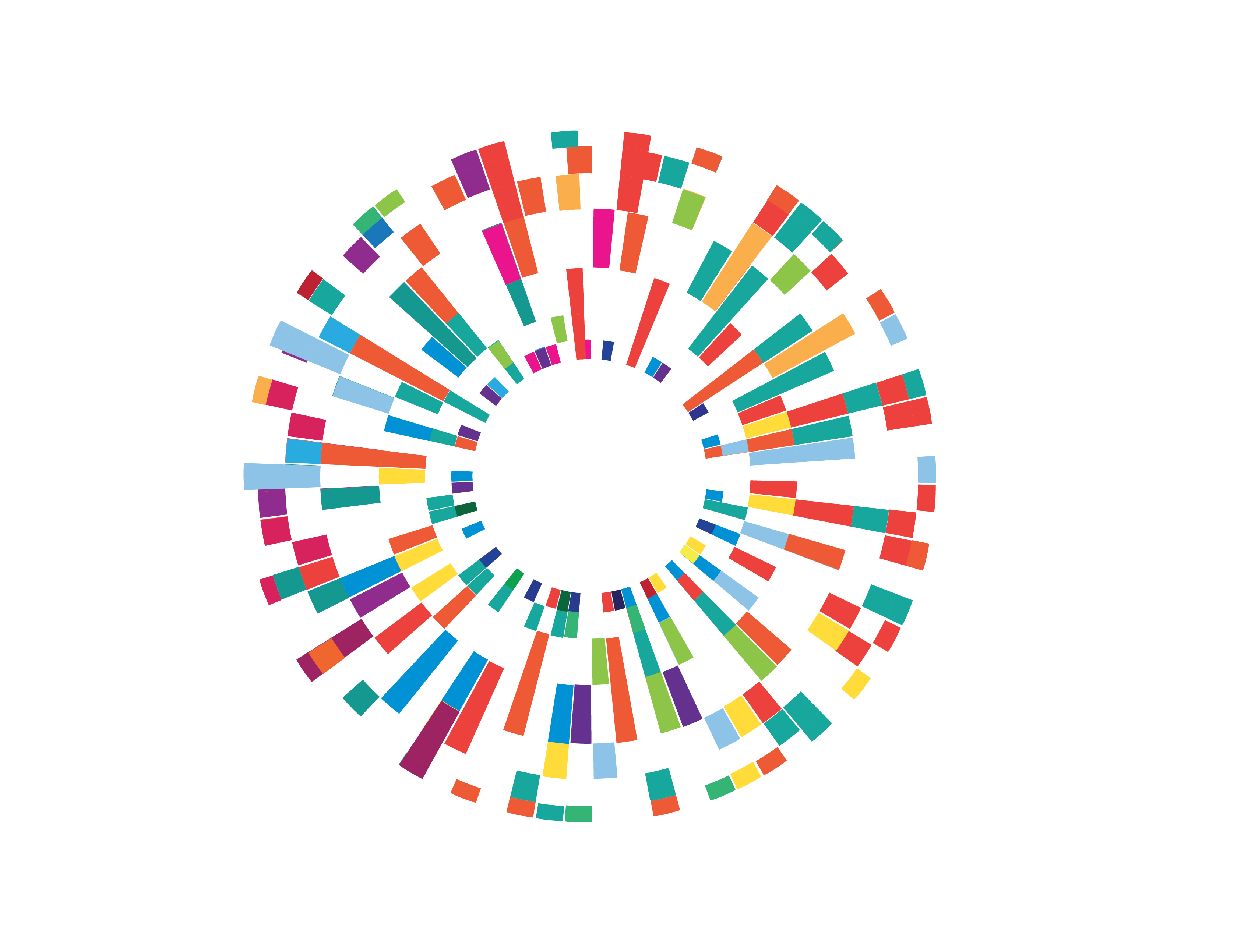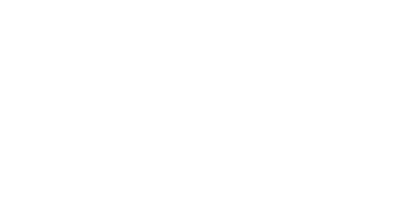Estado e Regime em tempos de emergência
Entrevista com Raquel Varela, com Roberto della Santa
Esta entrevista foi realizada por Luciano Alvarez do Jornal Público e publicada, em parte, no mesmo jornal.
Vários inquéritos mostram que os portugueses estão entre os que mostram índices negativos de confiança no Estado. Se é assim, porque é que de repente estamos disponíveis para aceitar todas as medidas que o Estado nos impõe de cima para baixo? E será que estamos dispostos a aceitá-las, de facto?
– Bom primeiro é preciso perguntar o que são índices de confiança, como e quem os mede? Deter um aparelho de Estado, como detêm as classes superiores, “elites dirigentes”, como lhe queira chamar, corresponde à dimensão do “domínio”, mas não garante, de per se, o aspecto da “direção” moral-intelectual implícita em “confiança”. Ou seja, as sondagens e inquéritos não conseguem responder a esta questão. Mais vale fazer uma boa leitura de Maquiavel do que seguir os inquéritos. Vivenciamos em Portugal –bem como no resto do globo– uma autêntica crise de representação e legitimidade e, portanto, de autoridade no seio do poder neste País. Foi o que tentei escrever nas páginas deste jornal ns eleições de Outubro (Portugal não é excepção, 07/10/2019: Eleições: Portugal não é excepção). A maioria da população cá, pertencente às classes trabalhadoras, tem motivos para não depositar nenhuma “confiança no Estado”. Os últimos anos foram muito duros para os de baixo, e doces para os de cima. O Estado português é muito eficaz quando se trata de submeter Estivadores em greve à disciplina da escolta da PSP dos fura-greves de Setúbal, esmagar a luta de Enfermeiros por condições dignas de atenção à saúde pública ou realizar uma obscena requisição civil-militar aos Motoristas de Matéria Perigosas que ganhavam e ganham 700 euros por 8 horas de trabalho perigoso. Imagino que muitas dúvidas passem pela cabeça dos portugueses sobre a capacidade deste governo em enfrentar a crise espoletada pela pandemia global de Covid-19. Mas atenção: não há nada mais desastroso na análise política do que confundir os governos, este ou outro, com o poder de Estado em geral e com o seu arranjo institucional –ou regime– em particular. É preciso compreender os mecanismos ideológicos e as estruturas de poder da hegemonia capitalista –elástica, flexível e muito dinâmica. Que é, apesar de restritiva, e estar em crise aguda, não está morta. Que quero dizer? Que a crença real na supremacia estatal como representante da “vontade do povo” pode coexistir com um profundo ceticismo em relação a todos os governos que a expressam de modo parlamentar. É preciso realçarmos um elemento fundamental implícito nesta pergunta. Naomi Klein publicou em 2007 “Doutrina do Choque: ascensão do capitalismo do desastre”, onde demostrou que o Estado e o mercado aproveitam situações de crise global para baixar salários, precarizar empregos, espoliar famílias, degradar o ambiente e desnatar Estados sociais. Não é à toa que é o FMI – uma organização internacional de empréstimos a juros altos – o primeiro a exigir medidas “extraordinárias”. Recorrer ao estado de excpeção como método é um perigo real que os Estado hoje, no meio do colapso moral e, tudo indica, de novo económico, do neoliberalismo, vão recorrer cada vez mais. Como diriam Bertolt Brecht e Walter Benjamin, “a excepção é a regra”.
– Em Portugal, há toda uma geração nascida no pós-25 de Abril que provavelmente nunca esteve na presença de um Estado tão interventivo e musculado como agora, a decidir tudo e mais alguma coisa, sobre nós e as nossas vidas. Que marcas é que isto pode deixar?
– A este respeito permita-me responder com aquilo que acredito conhecer melhor e, acredito eu, também é a melhor chave para perceber de facto as questões postas, na outra pergunta. Nos 19 meses que separam o 25 de Abril de 1974 e o 25 de Novembro de 1975 houve um renhido embate entre dois tipos de poderes muito distintos: o Estado político, de um lado, e a revolução social, por outro. Quão mais participativo e forte era o povo organizado em comissões, conselhos de gestão dos hospitais, das escolas, associações e assembleias – além de partidos, sindicatos e movimentos –, menos era musculado e interventivo aquilo que chamamos de “Estado”. O poder político não era o monopólio de funcionários burocráticos ou políticos profissionais. Nunca tanta gente decidiu tanto em Portugal como nesse período. Nas comissões de trabalhadores, nas associações de moradores, nos comandos de greve, nos actos e manifestações, nas pessoas que se auto-organizaram para definir a estrutura social e a relação de poder a partir de seus bairros, do movimento estudantil, da história social de mulheres que passaram por processos emancipatórios fortíssimos – em 1974-1975 –, por questões tão básicas quanto o direito a licença-maternidade, direito ao divórcio, direito a que os filhos não fossem considerados ilegítimos. Essa história, que escrevei na História do Povo na Revolução Portuguesa, é a história das pessoas em descoberta de que podem tomar a vida nas suas próprias mãos, que o poder pode ser exercido diretamente por elas, coletivamente, sem que lhes seja outorgado, de cima para baixo. Ou seja, as ocupações e os conselhos de gestão democrática das escolas e o controle operário das fábricas, foi um salto de consciência, organização e experiência que apontou uma alternativa popular ao poder do Estado central. Um terço da população de Portugal –cerca de 3 milhões de pessoas– engajou-se diretamente no centro de processos decisórios a respeito das suas próprias vidas. As pessoas não votavam de quatro em quatro anos para, daí, decidir o que fazer: elas decidiam o dia a dia, reunindo-se em fábricas, escolas, hospitais, no campo, nos bairros. Decisões que não eram impostas. Havia horas de reunião –de negociação e de discussão– votações, braços ao ar e olho-no-olho, para se chegar, coletivamente, à conclusão do que era o melhor para todos. Onde construir uma creche? Como organizar os correios? De que modo organizar a educação? Onde devem estar os médicos e que capacidade instalada? Muitas vezes pensa-se que a democracia liberal-parlamentar é a única opção à ditadura civil-militar como se não houvesse nada mais. Mas, em 74-75 houve uma democracia de base. Trata-se de uma experiência histórica recente vivenciada por milhões de pessoas deste país, por isso a cito. Não podemos ignorar que isto deixa também marcas indeléveis, senão no país, nas pessoas. Mas é preciso dizer que a contra-revolução ou, se quiser, “normalização democrática” que se seguiu a Novembro de 1975 foi brutal. Não brutal no sentido do método de extermínio de dirigentes ou de banhos públicos de sangue, como aconteceu no Chile de Allende e Pinochet. Mas, sim, brutal, e muito, em sua eficácia des-mobilizadora. O projecto de país que vingou foi construído a partir da destruição e das ruínas deste “sonho lindo”, como o cantou Fausto Bordalo. A crise que vivenciamos hoje é, na verdade, a convulsão, fragmentação e aceleração de diversas crises em simultâneo. A globalização neoliberal reestruturou as dinâmicas mundiais e reconfigurou as sociedades nacionais, com a mercantilização e precarização das relações laborais, a degradação e destruição do metabolismo social do homem com a natureza em escala global, a obscena financeirização e deslocação económica, o acréscimo exponencial de fluxos migratórios forçados, endividamento das famílias, intensificação da exploração e espoliação do trabalho vivo e uma alteração brutal das relações campo-cidade em todo o mundo capitalista. A crise que vivemos é esta.
– A ascensão dos movimentos populistas cavalga precisamente esta ideia da desconfiança da política e dos políticos. São “eles”, os incompetentes e os corruptos, contra “nós”, que sofremos na pele as consequências dessa incompetência e corrupção. Este regresso da ideia de um Estado forte e soberano, que está na primeira linha das grandes decisões a que as pessoas se entregam de forma voluntária, pode levar a uma diluição da força que estes movimentos têm mostrado em anos recentes? Esta crise é uma oportunidade para a esquerda e um perigo para direita?
– O que aconteceu não é uma catástrofe natural mas, sim, uma tragédia social – evitável, antes, e, felizmente, passível de mudar, hoje. Mas para realmente debelar esta crise orgânica é absolutamente indispensável que a crítica radical tenha hora – esta é a hora. Não como acto mental mas, sobretudo, como acto histórico. Vivenciamos a simultaneidade histórica, como já disse, de várias crises: a crise de hegemonia dos de cima combinada, desigualmente, à crise de direção dos de baixo. Ou seja, os de cima não sabem governar, e os debaixo não sabem que podem governar. Os sistemas de bem-estar social foram cortados, empresas e serviços públicos foram privatizados, os mercados financeiros desregulamentados e os trabalhadores precarizados. A Linha saúde 24 é dirigida pela Altice através de uma EPE – tudo isto, a começar pela PT, devia ser publico. A linha colapsou, como tinha colapsado o SIRESP. O neoliberalismo adquiriu com o tempo uma forma institucional particularmente rígida: o número de Estados-membros do que se tornou a União Europeia multiplicou-se em mais de quatro vezes, incorporando no Sul da Europa e a Leste do continente uma vasta zona de baixos salários para pressionar para baixo salários de países como Alemanha, França, Holanda, Inglaterra. As draconianas políticas de austeridade – o “neoliberalismo 2.0” – voltaram-se contra suas próprias populações e a EU apagou-se no pós-guerra fria. A verdade é que a popularidade da EU decresceu enormemente: uma estrutura oligárquica, carente de qualquer soberania popular e encouraçada por um amargo regime político e económico de dureza para muitos e privilégio para poucos. Somente contra este pano de fundo é possível perceber o que os media chamam “populismo”, uma ideia política, creio, imprecisa e ineficaz tanto do ponto de vista político como teórico. Para os movimentos anti-sistema de “esquerda”, a lição dos anos recentes é clara. O referendo britânico e a eleição norte-americana de Trump foram convulsões anti sistémicas capitaneadas pela “direita” com sucesso, porém acompanhadas por levantes anti sistémicos de “esquerda” derrotados (o movimento Bernie Sanders nos EUA e o fenómeno social Corbyn, nas Ilhas) menores em escala, embora mais surpreendentes. Se não desejam ser superados pelos movimentos da “direita”, não podem ser menos radicais em atacar o sistema – e precisam de ser mais coerentes e claros na sua oposição a ele. Isso significa, na Europa, admitir a possibilidade de que a UE pode ter-se tornado tão atrelada à construção neoliberal que reformá-la já não é seriamente concebível. Para que haja esperança de uma Europa Unida é preciso romper com o medo do fim da União Europeia atual. Mas isso não significa que esteja agora, a UE, a enfrentar qualquer perigo mortal dos de baixo, da população e dos seus trabalhadores. A fúria cresce entre a população. Mas o medo ainda a ultrapassa em larga medida para citar Perry Andersen. Em condições de crescente insegurança, mas não de catástrofe, o primeiro instinto sempre vai ser o de preservar o que se conhece, por mais repugnante que seja. Mais do que arriscar algo radicalmente diferente. Isso apenas irá mudar quando a fúria for maior que o medo. Por agora aqueles que sobrevivem do medo – o Syriza grego, o Podemos espanhol ou a Geringonça de Portugal – estão seguros. Mas quem não se enfrenta aos grandes problemas históricos apenas os posterga e, ao adiar os conflitos incontornáveis e as decisões difíceis, agiganta aos seus demónios. Falar em “esquerda” e “direita” como representações políticas sem mencionar classes sociais não é muito útil. E por isso as coloquei entre aspas. Só a classe trabalhadora europeia organizada, que é de operários e de médicos, de cal centre e de enfermeiros ou professores, e motoristas, pode oferecer uma saída para a pandemia planetária e para a crise global. As nossas esperanças devem repousar menos nos abraços fraternos ou quarentenas austeras de Marcelo Rebelo de Souza e mais em médicos, enfermeiros, cientistas, operários, funcionários públicos e técnicos auto-organizados, onde haverá sim disciplina e medidas duras, mas serão de baixo para cima e não de cima para baixo. Ou seja, vão ter autoridade, e não mero poder, ou abuso de poder.